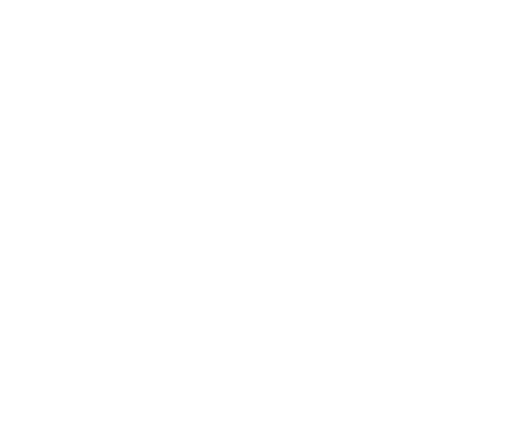Carta à Anastácia: uma experiência sobre o racismo no MS
Da 25 de julho é marcado pelos 30 anos do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana, Caribenha e da Diáspora, que foi impulsionada pelo movimento de mulheres na luta pelos direitos humanos. Uma acadêmica da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) escreveu uma carta inspirada na data e na história de Anastácia, mulher escravizada e que virou referência de luta.
A acadêmica do curso de Letras da UFGD, Márcia Alves de Freitas, escreveu um texto em forma de carta para uma atividade da disciplina “Tópicos em Cultura e Diversidade Étnicorracial”, do professor doutor Jones Dari Goettert. A atividade foi estabelecida como resposta à foto da escrava Anastácia, sobre quais sentimentos, contemporâneos, inspirariam uma carta.
O resultado foi fantástico, segundo professores e amigos que tiveram acesso ao material. A carta traz uma reflexão sobre o racismo estrutural, a partir de experiências que a jovem viveu no Mato Grosso do Sul.
—
Dourados, maio de 2022.Carta a Anastácia.Olá, minha irmã, resolvi te escrever essa carta para não me calar em minha solidão.
Te faço irmã pela dor.
Duzentos anos se passaram, hoje aqui somos mais numerosos que os brancos, mas a sonhada
equidade ainda é um sonho distante, as coisas permanecem como ontem.
Não ouso comparar minha dor a sua, latente e perene, incomensuravelmente maior, mas, aqui
continuarmos a ser torturados e mortos todos os dias. Mortos às vezes num rompante de emoção,
pela polícia ‘justificadamente como suspeitos’, às vezes à mingua da saúde que não nos alcança, da
comida que nos falta, da dor nos abate. Que morte dói mais: a do filho morto pela bala, ou do filho
morto pela fome?
Somos muitos e temos força, mas o branco nos convenceu da normatização de uma condição inferior,
nos convenceu que essa dor é leve, quase não existe, e então, a colocamos de lado, como se nada
fosse, e seguimos nos segurando na dignidade que acreditamos que nos valha.
Sabe, Anastácia, aqui acabamos de passar pelo carnaval, festa do povo, para o povo (será?) e esse é
um dos únicos momentos em que somos vistos…, mas como somos vistos?
Eu vivo em um estado que não é o meu, sou de São Paulo e moro em Mato Grosso do Sul, e no estado
aonde resido essa festa, o carnaval, não é comemorado como de onde vim, e, talvez por saudosismo,
talvez trazendo apenas um novo tema a uma prosa, comentando sobre o carnaval em uma roda de
conversa daqui, ouvi a seguinte frase:
‘- Legal para vocês que são morenos, no carnaval vocês entram em moda’.
…
Tem coisa que vale uma conversa, tem coisa que não vale uma observação. Respondi como que com
uma breve piada e me calei. Me afastei dali.
Te escrevo porque me senti como que com aquela bola de ferro na boca.
No carnaval somos vistos. Somos muitos. Lindos, soberbos, a pele negra brilhando o ouro, a prata, as
pedrarias e plumas. Ostentamos um orgulho da raça e cor. Somos admirados pelas curvas, pela
desenvoltura, pelo cantar, pelo dançar, uma multidão de negros, mestiços, brancos, cantando por uma
só voz o hino da igualdade. Temos pronto, no peito, o brado da libertação, e a consciência de uma
nação que se emudecerá ao final do carnaval.
Nessa terra somos a moda do carnaval, a cor do verão, a cor do pecado… e só.
Acabou o carnaval, e então a obrigatoriedade óbvia da subserviência retorna.
’- Eu não sou racista, mas não quero um supervisor negro.’
‘- Eu não sou racista, mas esse carro legal é seu?’
‘- Eu não sou racista, mas você estuda numa Universidade Federal?’
‘- Eu não sou racista, mas esse sistema de cotas é um absurdo.’
‘- Eu não sou racista, mas devo ser atendida antes daquele negro (mesmo que ele tenha chegado
primeiro).’
‘- Eu não sou racista, mas preciso estar ao lado desse negro?’
‘- Eu não sou racista, é muito mimimi desse povo que sempre quer ser vítima.’
‘- Eu não sou racista, mas não quero um neto negro.’
Anastácia, me vejo com a bola de ferro na boca quando não ouço nos nomes a sonoridade de
sobrenomes de ascendência negra, quando não vejo nos lugares de representatividade o negro
retinto, quando ouço que meu cabelo é mais bonito preso, quando pedem para eu disfarçar meu corpo
volumoso, quando não encontro para comprar o batom escuro que amo, quando não vejo roupas com
cores e padrões que possam remeter ao continente africano, quando não ouço vozes que
acompanham meu pensamento, quando não ouço minha voz…
A máscara da passividade quando a garganta quer gritar, o opaco nos olhos daqueles que tem muito
brilho dentro de si, mas que não podem se revelar, a dor que de tanto doer se fez amiga, compreensiva,
e para tudo tem desculpa:
‘- Ele não quis dizer isso.’
‘- Ah, mas isso não é racismo!’
‘- Você se ofendeu? Para de frescura, vai!’
‘- Eu te admiro tanto! Você nem parece ser negra!’
E a gente vai seguindo, não vendo, não ouvindo, tudo compreendendo, não falando. Não porque não
queiramos falar, mas porque muitas vezes não dá para falar. Existem coisas demais a serem ditas,
poucas pessoas com discernimento para as ouvir sem que haja sequelas, e, nem de tudo temos
entendimento, porque, de tão entranhado no pensamento, por vezes, também me vejo racista, e a
desconstrução dos dogmas inseridos em nossa mente é um trabalho árduo, crescente e diário.
Às vezes penso numa luta ininterrupta. Às vezes penso na seleção de batalhas. O que nunca penso é
no abandono da questão, e tento, da forma que consigo, dar força e expressão a minha, e, tantas
outras vozes, aliviar um peso, erguer mais uma cabeça, mostrar um horizonte e seguir acreditando.
Eu vejo um alvorecer negro, de consciência, poder, educação e força rompendo barreiras nascendo, e,
embora ainda sejam apenas os primeiros raios desse sol, ele vai nascer.
Sei que nossas dores são irmãs. Sei de uma caminhada que não está só. Sei da distância, do tempo, da
situação, mas tudo o que hoje vivemos, já foi pior. A bola, física, de ferro, já foi tirada da boca, mas o
gosto amargo ainda permanece.
Com amor,

Márcia Alves de Freitas